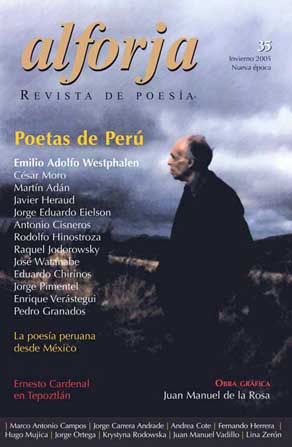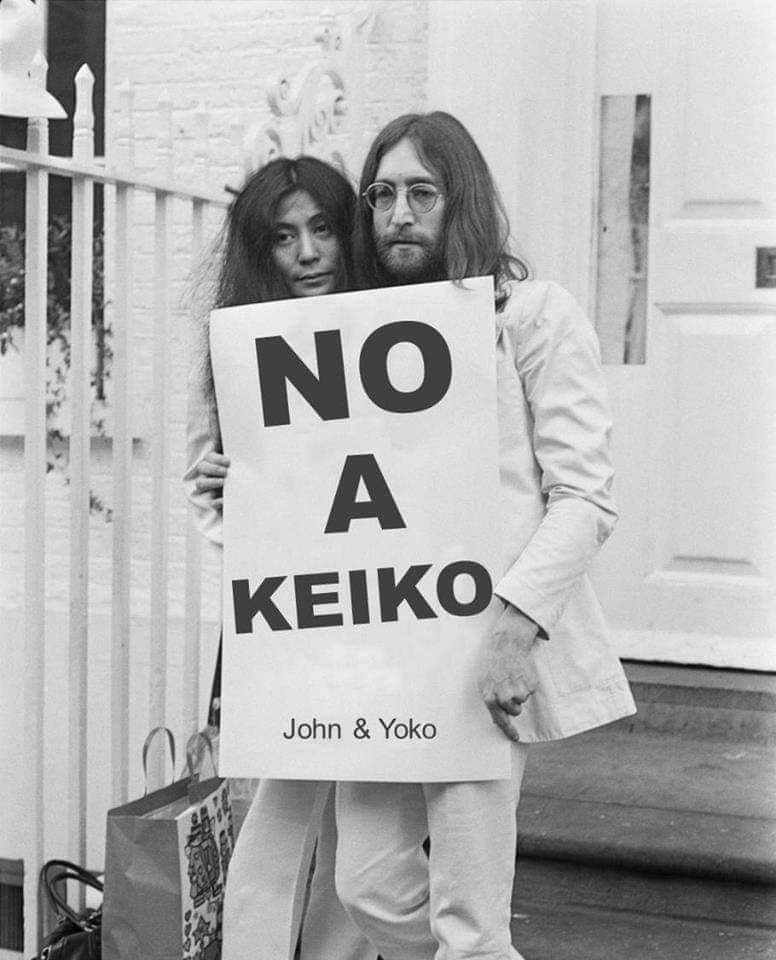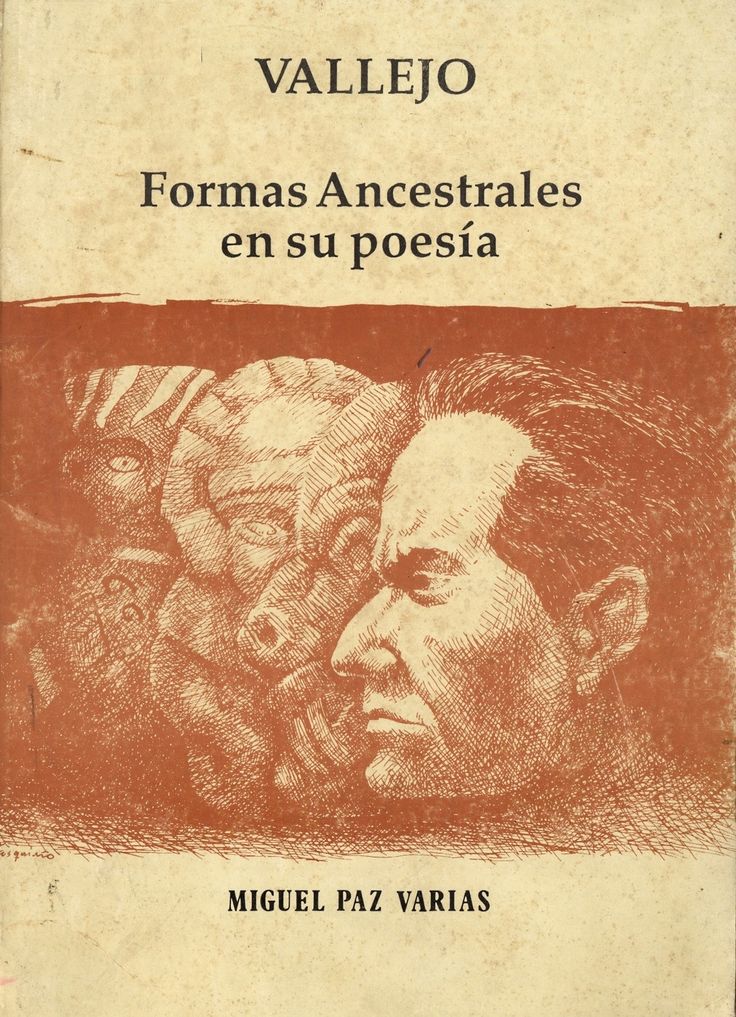Trabalhamos, indistintamente, imagens e poemas; na medida em que a poesia, pelo menos desde Platão, envolve mimese ou “colocar as coisas diante dos olhos” (se isso, segundo o grego, é mesmo “dupla” aparência, é outra questão). Agora, na nossa oficina de leitura-escrita ou montagem de imagens, assumimos essa operação a partir de dinâmicas de grupo que, pela sua própria natureza, garantem afastar os clichés e, antes, promover ao máximo a potência dessas imagens ou poemas. surgem da dinâmica de grupo em que – como participantes do workshop – nos encontramos envolvidos. Portanto, o rigor crítico não será alheio ao lúdico, o que se alcança automaticamente ao psicológico (individual e coletivo) em meio a uma produção grupal de textos e, num segundo passo, à criação de sentido implementada de forma democrática; isto é, em constante debate entre os participantes do workshop.
Trata-se de parar criticamente diante da mimese; isto é, como algo é criado, se torna operacional e consolidado institucionalmente; enquanto outras mimeses podem não se institucionalizar, embora isso não signifique que deixem de ser, pelo seu próprio poder larval, questionadoras, libertadoras e, sobretudo, inesquecíveis.
Já há algum tempo que realizamos algumas destas oficinas sobre criação de imagens e significado (na leitura de poemas) e em diferentes ambientes. Oficinas que, no âmbito da cura, até incentivamos a propor como desenvolvimento de “protótipos”. Por exemplo, “
Hinostrozos ” (Ranhuaylla, Cusco);
Cristóbal “Tobi” Kanashiro (Lima, Peru);
Sabina Cachi (Cochabamba, Bolívia);
Alejandro Abdul (Foz do Iguaçu, Brasil);
Dadá da Tapioca (Rio Branco, Brasil); entre outros.
Dissemos curadoria – ligação entre as obras dentro do grupo e, simultaneamente, a partir de um contexto social e cultural específico – no sentido de que, após a sua correspondente tradução intersemiótica, os nossos poemas tornaram-se, literalmente , desenhos ou desenhos ou retratos daquilo que se desenvolveu ou surgiu. protótipo. Arte plástica que, junto com os próprios poemas , passou a alimentar um blog ou página da Internet. Além disso, por vezes, a própria força desse protótipo ou imagem consensual levou-o a transformar-se numa história, num pequeno romance ou mesmo numa encenação (Trad.: Gilaine Perez) P.G.